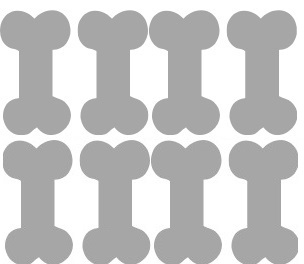Quando se pensa cinema, é importante diferenciar do teatro. Teatro é uma arte do presente, onde toda a tensão existe na encenação do agora, que será perdida no tempo após seu término. O teatro conta com o palco, gerando certas limitações realistas, fazendo que o artifício seja inevitável para representar uma cena. Fora, a grande e maior diferença: A ausência da câmera. No teatro temos uma perspectiva maleável, contando que existem vários lugares num auditório, porém para maior parte dos fins, limitada à bi-dimensionalidade do palco. No cinema a câmera navega os momentos, se aproxima dos atores, permite que emoções sutis – que, em uma peça, na distância do palco, certamente seriam perdidas – brilhem e tomem a tela.
Cinema também é uma arte do passado. No teatro, para revisitar uma peça, é preciso que ela seja inteiramente re-encenada no momento. No cinema, os momentos são congelados no tempo, cravados na celuloide e podem ser revistos infinitamente. Fora que também, por se tratar de um registo do real (quando não estamos falando de animações), é uma arte que tende ao realismo. Lógico que, sempre, com algum nível de artifício. Esse nível vai ser ditado pelo cineasta.
Porém, ambas as artes compartilham muitas coisas também. Em específico, a possibilidade de encenação. Não é uma característica inerente do cinema – que nem é uma arte necessariamente narrativa, em primeiro lugar. Pode recorrer a filmes documentais, experimentais e qualquer outra forma de usar movimento em imagens. Mas, para o teatro, é inevitável. E, quando nós falamos de filmes de ficção, muito provavelmente, estamos nos referindo a trabalhos encenados. Essas histórias não nascem em encenação, mas se materializam assim. Elas nascem em texto ou, pelo menos, para os cineastas e dramaturgos mais experimentais, como ideias na cabeça. Mas essas artes parecem dizer que escrever no papel não é o bastante para essas histórias, algo sobre as colocar sob o estresse da realidade – de um diretor com uma visão, que por si, será contraposta às condições materiais de tal; de atores para interpretarem cada personagem e, também, trazer suas próprias perspectivas; de maquiadores, produtores e diversas outras figuras envolvidas no processo de fazer uma cena sair do papel – algo sobre tudo isso irá revelar dimensões importantes e renovadas dessa história. Irá elucidar dimensões que podem não existir no papel (irá também, por sua vez, perder certas dimensões que podem existir apenas no papel.)
“A Grande Viagem de Sua Vida” (A Big Bold Beautiful Journey, 2025) é um filme que parece indagar: O que exatamente encontramos no gesto de encenar algo? Não só assistir uma encenação, mas realmente encenar. Performar. O que a gente encontra no gesto de mentir para nós mesmos que estamos em uma determinada situação?
David (Colin Farrell) e Sarah (Margot Robbie), são duas pessoas muito sozinhas que parecem fugir de compromissos. Não à toa que são os dois trintões (quarentões no caso do Farrell) solteiros mais bonitos que você vai ver na vida. Após uma troca de olhares em um casamento, são convidados a fazerem uma viagem juntos por um GPS mágico, que aponta portas ao passado no mapa, fazendo com que a dupla confronte suas emoções mal resolvidas.

Cada porta os leva a espaços reais e imaginados do seu passado. Não é claro se qualquer coisa que eles fazem após entrarem nessas portas tem algum efeito para além daquele momento, porém não importa muito. O diretor Kogonada disse em uma entrevista que se interessou pelas portas porque elas carregam um elemento teatral. Um elemento do cenário que você atravessa e imagina estar num espaço completamente diferente.
Dessa descrição, já é possível entender o tipo de filme sentimentalista que “A Grande Viagem de Sua Vida” é. É um trabalho cafona, onde os personagens meditam sobre amor e a vida, cheio de artifícios visuais a lá “A Vida Secreta de Walter Mitty”, com esse tom encantado e emotivo – que lida com qualquer platitude como se fosse uma grande revelação -, enquanto obviedades do indie tomam a trilha sonora. Mais cedo no ano, “A Vida de Chuck” (The Life of Chuck, 2024) de Mike Flanagan era o mesmo tipo de filme meloso e redundante. Mas, esse terceiro longa de Kogonada, de alguma forma, não só sobrevive como parece conseguir sustentar suas sensibilidades mais açucaradas sem nunca deixar passar do ponto e higienizar completamente o projeto.
Kogonada parte desse tom encantando, mas nunca o deixa achatar suas cenas. O filme raramente se rende a montagens e abstrações pouco inspiradas. O diretor encontra esse encanto exatamente na textura das cenas. Desde seu primeiro longa “Columbus” (2017), ele sempre esteve muito interessado em quais sensibilidades extrair de cada espaço. Sendo um filme temático de arquitetura, era de suma importância. Aqui, numa road-trip, é tanto quanto. É um trabalho que artificializa seus espaços com alguma frequência, um pouco numa necessidade de gerar imagens pitorescas, mas também consegue sentir suas minúcias materiais. Longe de ser um filme tão meditativo quanto “Columbus”, “A Grande Viagem” ainda passa por cada local com um afeto e lirismo muito sincero. A chuva da cena onde os protagonistas têm sua primeira conversa; o vazio do quarto de hospital da mãe de Sarah (momento que gera uma das imagens mais pitorescas e potentes do longa); a claustrofobia e nostalgia da sala de maquiagem da escola de David… Kogonada sabe enquadrar os atores no espaço de forma que só o ambiente consiga sustentar grande parte da emoção das cenas. Ele é menos inspirado quando precisa lidar com um surrealismo de grife, através dos contornos de ficção-científica/realismo mágico do filme, coisa que realmente não acho que é onde a emoção do projeto está.

Kogonada em “A Grande Viagem” não é só bom para criar contornos para esses momentos emotivos, mas também tem uma busca ditando seus momentos. É até uma defesa lógica de todo o encanto e fé que o filme deposita nas suas cenas: ele precisa distender a encenação ao seu máximo. Ele é quase oposto a um Bresson (cineasta do qual Kogonada há pouco lançava uma visual-essay sobre sua relação com portas), no sentido de ser um projeto hiper-expressivo. Ele constantemente quer manipular e artificializar as cenas e performances, tentando entender onde na linguagem se encontram essas emoções. E isso seria de pouca nota no cinema contemporâneo, se Kogonada não fizesse disso o próprio mecanismo narrativo do filme.
David diz, ao visitar um farol que costumava ir, “Os espaços mais bonitos te fazem sentir mais sozinho”, frase que pouco depois é entregue de volta para o personagem por Sarah, num tom de deboche. Sugerindo que faz parte de uma performance do personagem, projetando essa forma estoica e solitária para si, porque é conveniente. É um momento do filme que tanto ironiza seu ar de profundidade falsa, quanto também entende que existe algo genuíno por trás da performance desses personagens. Elas não apenas escondem coisas, mas também revelam o que nunca poderiam dizer.
Na terceira porta, David volta para a escola e precisa re-encenar o fora que tomou de seu crush adolescente. Sarah pergunta por quê, e David só sabe que precisa fazer. Por mais que o sentimento o machuque, existe tanto um poder restaurador em o re-encenar quanto também, agora, um novo controle. Ele conhece as falas, dele e dela. Pode falar ambas e, assim, tomar o momento de volta de alguma forma. Encontrar algum sentido ali. O segmento termina com uma sequência musical de David e Sarah cantando um trecho da peça musical que David apresentava, manifestando ali sentimentos que têm um por outro, mas que só conseguem expressar por música. Só conseguem falseá-los, para chegar na verdade.
–Spoilers a Frente–
O filme tem seu clímax em duas encenações dos protagonistas em diálogos familiares. São momentos onde o artifício se expõe inteiramente, onde nada parece ter respaldo na realidade, fora a própria força do momento em si. Esses momentos não têm impacto na narrativa, apenas nos personagens e apenas pela sua própria representação. De um lado, David se torna a figura de seu pai e conversa consigo mais jovem. Enquanto, Sarah, com 12 anos na cena, pede para que sua mãe a imagine como uma mulher mais velha e compartilha uma conversa com ela. É um momento de conciliação entre pais e filhos através da farsa. Se de um lado, só pela encenação, David consegue entender o pai e ter paz consigo mesmo; do outro, é um gesto de brincadeira e de magia. É um momento imaginado que permite a finalidade à Sarah.
“A Grande Viagem” é um filme que parte de conceitos narrativos, um pouco simbólicos, bem baratos. Colocar seus personagens para confrontar seus problemas do passado é drama, mas fazer isso através de uma força onipotente que literalmente coloca eles sentados opostos das pessoas cujas quais tem problemas, é drama barato. É o tipo de coisa preguiçosa que faz qualquer filme parecer imaturo. Porém, o que destaca o filme de Kogonada é a forma como ele parece reconhecer isso e usar de tal para explorar a frontalização do drama como um poder em si.

Também não é um trabalho que se contenta em ser meramente simbólico. Pode até existir uma alegoria sobre narrativa na forma que o GPS guia os personagens para esses mundos, como um roteirista guiaria seus protagonistas, ou ser um filme que comenta na própria encenação, mas ele nunca se rende a isso. Kogonada faz questão que suas cenas sejam materiais e suas emoções surjam não das ideias, mas do que está se desenrolando na cena em si. É mais sobre a Sarah pedindo para que a mãe a ponha para dormir, do que sobre o que isso simboliza por fora.
E o longa pode até ter soluções um pouco imaturas e se trair com algumas decisões. Trocar os silêncios do Kogonada ou as músicas do Joe Hisashi por músicas indie emotivas acaba sabotando muito mais os grandes momentos do que dando espaço para eles decolarem. Mas “A Grande Viagem”, apesar de constantemente parecer querer te convencer que é emotivo através de escolhas intrusivas, consegue encontrar as verdades e emoções em suas cenas para mover genuinamente.
***
Cotação por Ossos:
8,0